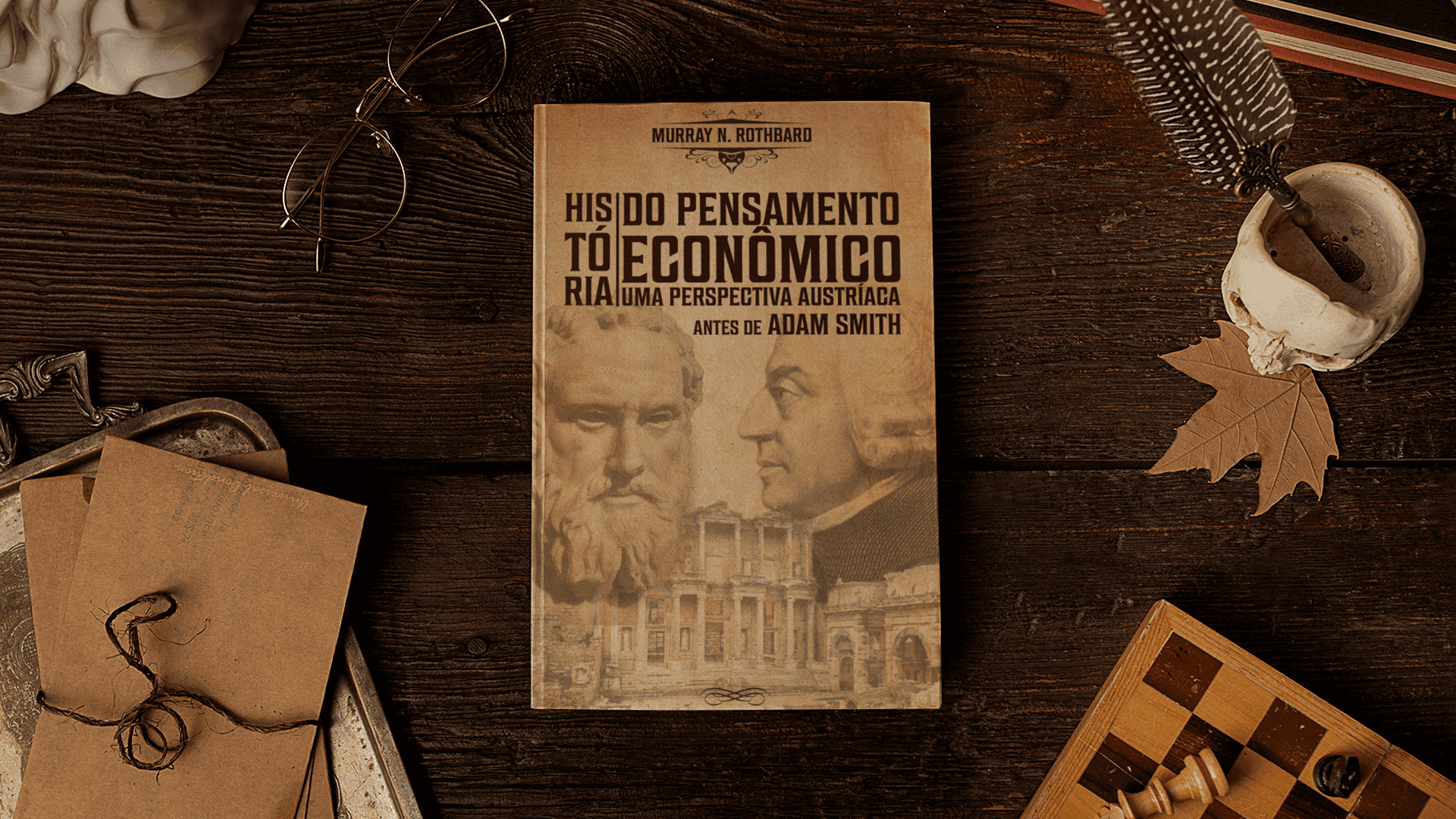1. O surgimento do pensamento absolutista na Itália
No século XII, as cidades-estado italianas desenvolveram uma nova forma de governo, nova pelo menos desde a Grécia antiga. Em vez do habitual monarca hereditário como soberano feudal, baseando o seu governo numa rede de domínio feudal sobre áreas de terra, as cidades-estado italianas tornaram-se repúblicas. Os oligarcas comerciais que constituíam a elite governante da cidade-estado elegeriam como governante um funcionário burocrático assalariado ou podesta, cujo mandato era curto, e que, por conseguinte, governava à prazer da oligarquia. Essa forma de governo citadino-republicano começou em Pisa em 1085, e havia varrido o norte da Itália no final do século XII.
Desde a era de Carlos Magno, no século IX, os imperadores alemães — ou “Sacro Imperadores Romanos” — eram legalmente considerados como governantes do norte da Itália. Durante vários séculos, contudo, essa regra foi meramente pro forma, e as cidades-estado foram de facto independentes. Em meados do século XII, as cidades-estado italianas eram os países mais prósperos da Europa. A prosperidade significou a tentação permanente de saquear a riqueza, e assim os imperadores alemães, começando por Frederico Barbarossa em 1154, começaram uma série de tentativas durante dois séculos para conquistar as cidades do norte de Itália. As incursões chegaram ao fim com a estrondosa derrota da expedição do Imperador Henrique VII de 1310-13, seguida da abjeta retirada e dissolução do exército imperial de Luís da Baviera em 1327.
No decurso desse conflito crônico, teóricos jurídicos e políticos surgiram na Itália para dar voz a uma determinação italiana eventualmente bem-sucedida de resistir à intromissão dos monarcas alemães. Evoluíram a ideia do direito das nações de resistir às tentativas de conquista imperial por outros estados — o que mais tarde seria chamado de direito da independência nacional, ou “autogoverno” e “autodeterminação nacional.”
Durante os dois séculos de conflitos, o maior aliado das cidades-estado italianas contra o império alemão foi o Papa, que nessa época foi capaz de colocar os exércitos papais em campo. Enquanto os exércitos papais ajudaram as cidades a reverter as forças do imperador durante o século XIII, as cidades-estado descobriram para seu crescente desgosto que o Papa estava começando a impor o poder temporal sobre o norte de Itália. E essas reivindicações poderiam ser apoiadas pelos exércitos papais que ocupavam grandes partes da península italiana.
Durante algum tempo, alguns teóricos brincaram com a ideia de reverter a política italiana e submeter-se ao imperador alemão, a fim de se livrarem da ameaça papal. Entre esse grupo destacou-se o grande poeta florentino Dante Alighieri, que avançou as suas visões pró-imperiais e antipapais em sua Monarquia, escrita no auge das esperanças imperiais para a expedição de Henrique VII em 1310. O fim da ameaça imperial pouco depois, contudo, tornou essa virada para o imperador impraticável, bem como impalatável para a maioria dos italianos. E assim uma nova teoria política foi necessária para os oligarcas das cidades-estado italianas. Tal teoria afirmaria as reivindicações do estado secular — quer fosse a república ou a monarquia, pouco importava — para governar à vontade, sem a velha autoridade moral e muitas vezes concreta da Igreja Católica para limitar as invasões do estado à lei natural e aos direitos humanos. Em suma, os oligarcas italianos precisavam de uma teoria do absolutismo de estado, do poder secular sem restrições. A Igreja seria impacientemente relegada para a área puramente teológica e “religiosa”, enquanto os assuntos seculares estariam inteiramente separados nas mãos do estado e do seu poder temporal. Isso equivalia à doutrina politique, que viria a prevalecer no final do século XVI na França.
Como vimos acima, os oligarcas italianos encontraram a sua nova teoria nos escritos do teórico político e professor universitário, Marsílio de Pádua. Marsílio pode, portanto, ser considerado o primeiro absolutista do mundo ocidental moderno, e o seu Defensor Pacis (1324) a primeira expressão principal do absolutismo.
Enquanto Marsílio foi o teórico fundador do absolutismo no Ocidente, a forma específica da sua própria política tornou-se rapidamente obsoleta — pelo menos em Pádua. Pois Marsílio era um adepto do republicanismo oligárquico, mas essa forma de governo revelou-se de curta duração, e desapareceu em Pádua logo após a publicação do seu tratado. Durante a segunda metade do século XIII, as cidades-estado italianas tornaram-se um fosso entre os antigos oligarcas — os magnati — esforçando-se por manter o seu poder, e os popolani recém-ricos, privados de direitos, mas que continuavam a tentar ganhar poder. O resultado foi que em todo o norte de Itália durante a última metade do século XIII — começando com Ferrara em 1264 — o poder foi tomado por um homem, um signor, um déspota que impôs o domínio hereditário de si próprio e da sua família. Com efeito, a monarquia hereditária havia sido estabelecida mais uma vez. Não foram chamados “reis”, uma vez que esse teria sido um título absurdamente grandioso para o território de uma cidade; e por isso deram a si próprios outros nomes: “senhor permanente”; “capitão geral”; “duque”, etc. Florença foi uma das poucas cidades capazes de resistir à nova maré do domínio de um só homem.
Em 1328, quatro anos após a publicação de Defensor Pacis, a família Della Scala conseguiu finalmente impor o seu controle sobre a cidade de Pádua. Os Della Scala tinham tomado o poder em Verona nos anos 1260, e agora, após muitos anos de conflito, Cangrande della Scala pôde tomar o poder também em Pádua. Rápido a inaugurar uma nova tradição de adulação bajuladora da tirania foi a proeminente figura literária padovana Ferreto de Ferreti (c. 1296-1337), que abandonou o seu republicanismo anterior para compor um longo poema em Latim, o A Ascenção de dela Scala.
O herói Cangrande viera, segundo Ferreti, e trouxe finalmente paz e estabilidade a “turbulenta” e dividida, Pádua. Ferreti concluiu o seu panegírico expressando a fervorosa esperança de que os descendentes de Cangrande della Scala “continuariam a empunhar o cetro por longos anos.”
2. Humanismo italiano: os republicanos
Os defensores das antigas repúblicas oligárquicas contrariaram a ascensão dos Signori com um absolutismo pró-republicano próprio. Esse desenvolvimento começou no ensino da retórica. No início do século XII, a Universidade de Bolonha, e outros centros italianos de formação de advogados, haviam desenvolvido cursos de retórica, originalmente a arte e o estilo de escrever cartas, aos quais mais tarde foi acrescentada a arte de falar em público. Na primeira metade do século XIII, os professores de retórica incluíam comentários políticos orientados em suas aulas e manuais. Uma forma popular foi uma história propagandística das suas próprias cidades, glorificando a cidade e os seus governantes, e expressamente dedicada a inculcar a ideologia de apoio à elite governante da cidade. O mestre inicial mais proeminente deste gênero foi o retórico bolonhês Boncampagno da Signa (c.1165-1240), cuja obra mais popular foi O Cerco de Ancona (1201-2). Outra forma proeminente, desenvolvida por retóricos italianos na segunda metade do século XIII, foram livros de conselhos para governantes e para magistrados da cidade, nos quais os conselhos políticos eram dirigidos aos governantes. O livro de conselhos mais importante foi o de João de Viterbo, O Governo das Cidades, por ele escrito na década de 1240, depois de ter servido como juiz sob o governante eleito, ou podesta de Florença. João de Viterbo, no entanto, não era um absolutista por completo, uma vez que a sua abordagem decididamente moral aconselhava o governante a perseguir sempre a virtude e a justiça e a evitar o vício e o crime.
Enquanto o ensino italiano de retórica em Bolonha e noutros locais era estritamente prático, os professores franceses de retórica no século XIII defenderam os escritores gregos e romanos clássicos como modelos de estilo. O método francês foi ensinado na Universidade de Paris e particularmente em Orleans. Na segunda metade do século XIII, os retóricos italianos que tinham estudado na França trouxeram à Itália uma nova abordagem, mais ampla e humanista, que rapidamente varreu o campo, dominando até mesmo a Universidade de Bolonha. Logo esses primeiros humanistas começaram a estudar as ideias bem como o estilo dos poetas, historiadores e oradores clássicos, e começaram a animar a sua teoria política com referências e modelos clássicos.
O mais importante desses proto-retóricos humanistas foi o florentino Brunetto Latini (c. 1220-94). Exilado de sua Florença natal, Latini foi para França aos 40 anos de idade e assimilou as obras de Cícero e a abordagem retórica francesa. Durante o seu exílio, Latini compôs a sua principal obra, Os Livros do Tesouro, que introduziu Cícero e outros escritores clássicos nas obras tradicionais da retórica italiana. No seu regresso a Florença em 1266, Latini também traduziu e publicou algumas das principais obras de Cícero.
Particularmente importante na nova aprendizagem foi a Universidade de Pádua, a começar pelo grande juiz Lovato Lovati (1241-1309), a quem ninguém mais ninguém menos que o poeta Petrarca (meados do século XIV) chamou de o maior poeta italiano até àquela época. O mais importante dos discípulos de Lovati era a fascinante personalidade Alberto Mussato (1261-1329). Advogado, político, historiador, dramaturgo e poeta, Mussato foi o líder da facção republicana em Pádua, a principal oposição à longa campanha da família Della Scala para tomar o poder naquela cidade. (Ironicamente, Ferreto de Ferreti, o panegirista da vitória de Della Scala, foi um discípulo próximo no círculo de Lovati). Mussato escreveu duas histórias da Itália; o seu esforço literário mais proeminente foi a notável peça de versos em Latim, Ecerinis (1313-14), o primeiro drama secular escrito desde a era clássica. Aqui Mussato empregou a nova retórica como político e propagandista. Ele explica na introdução à peça que o seu principal objetivo era “invectivar com lamentações contra a tirania”, especificamente, é claro, a tirania dos Della Scala. O valor da propaganda política de Ecerinis foi rapidamente reconhecido pela oligarquia padovana, que coroou Mussato com uma coroa de louros em 1315, e emitiu um decreto ordenando que a peça fosse lida em voz alta todos os anos perante a população reunida da cidade.
O novo estudo dos clássicos deu também origem a sofisticadas crônicas urbanas, tais como a Crônica de Florença, escrita no início do século XIV por Dino Compagni (c. 1255-1324), um proeminente advogado e político da cidade. De fato, o próprio Compagni foi um dos governantes da oligarquia Florentina. Outro exemplo importante de humanismo retórico republicano foi o livro de Bonvesin della Riva, As Glórias da Cidade de Milão (1288). Bonvesin foi um dos principais professores de retórica em Milão.
Todos esses escritores — Latini, Mussato, Compagni, e outros — estavam preocupados em elaborar uma teoria política em defesa do domínio oligárquico republicano. Concluíram que existem duas razões básicas para a ascensão dos odiados signori: o surgimento de facções dentro da cidade, e o amor à ganância e ao luxo. Ambos os conjuntos de males foram, naturalmente, um ataque implícito à ascensão do nouveau riche popolani e o desafio dos popolani contra os antigos magnatas republicanos. Sem a nova riqueza dos popolani ou a ascensão das suas facções, a velha oligarquia teria continuado o seu caminho sem ser perturbada no exercício silencioso do poder. Compagni coloca categoricamente a questão: Florença foi perturbada porque “as mentes dos falsos popolani” haviam sido “corrompidas para fazer mal em nome do lucro”. Latini vê a fonte do mal naqueles “que cobiçam riquezas”, e Mussato atribui a morte da República Padovana a “sede por dinheiro” que minou a responsabilidade cívica. Note-se a ênfase na “sede” ou “cobiça” do dinheiro, ou seja, por novas riquezas; a riqueza antiga e, portanto, “boa” — a dos magnatas — não requer desejo ou cobiça, uma vez que já se encontra na posse da oligarquia.
Segundo os humanistas, a forma de acabar com as facções era o povo pôr de lado os interesses pessoais pela unidade em nome do “interesse público” ou do “interesse cívico”, do “bem comum”. Latini deu o tom ao trazer Platão e Aristóteles, Platão por nos instruir que “devemos considerar o lucro comum acima de tudo”, e Aristóteles por enfatizar que “se cada homem seguir a sua vontade individual, o governo das vidas dos homens é destruído e totalmente dissolvido.”
A tagarelice sobre o “interesse público” e sobre o “bem comum” pode ser muito bonita, até chegar o momento de interpretar na prática o que esses conceitos nebulosos devem significar e, em particular, quem deve interpretar o seu significado. Para os humanistas a resposta é clara: o governante virtuoso. Selecione governantes virtuosos, confie na sua virtude, e o problema é resolvido.
Como é que o povo deve proceder para selecionar governantes virtuosos? Essa não foi o tipo de pergunta embaraçosa colocada ou considerada pelos humanistas italianos. Pois isso teria levado inelutavelmente a considerar mecanismos institucionais que poderiam promover a seleção de governantes virtuosos, ou pior ainda, impedir a seleção dos viciosos. Qualquer adulteração dessas instituições teria levado a um controle do poder absoluto dos governantes, e isso não foi a mentalidade desses apologistas humanistas do poder soberano da oligarquia.
Os humanistas foram, no entanto, claros de que a virtude é inerente aos indivíduos e não às famílias nobres per se. Embora fosse certamente sensato da parte deles evitar centrar a virtude em famílias hereditárias nobres, isso também significava que o governante virtuoso poderia reinar pessoalmente sem ser controlado por quaisquer laços ou compromissos familiares tradicionais.
A única verificação oferecida para assegurar a virtude dos governantes, o único critério real para tal virtude, era se os governantes seguiam os conselhos desses humanistas, tal como elaborados em seus livros de conselhos. Felizmente, enquanto os Latini e os seus seguidores humanistas estabeleceram todas as condições prévias para um governo absoluto, não procederam a endossar o absolutismo em si. Pois, como João de Viterbo antes deles, insistiram que o governante deve ser verdadeiramente virtuoso, incluindo a inclinação à honestidade e à busca da justiça. Tal como João de Viterbo e outros no que têm sido chamado de literatura do “espelho-dos-príncipes”, Latini e os seus seguidores insistiram que o governante deve evitar todas as tentações de fraude e desonestidade, e que deve servir de modelo de integridade. Para Latini e os outros, a verdadeira virtude e o interesse próprio do governante eram a mesma coisa. A honestidade não era apenas moralmente correta, era também, numa frase posterior, “a melhor política”. Justiça, probidade, ser amado pelos seus súditos em vez de ser temido — tudo serviria também para manter o governante no poder. Parecer justo e honesto, Latini deixou claro, não era suficiente; o governante, tanto por causa da virtude quanto para manter o seu poder, “deve ser realmente como ele deseja parecer”, pois será “grosseiramente enganado” se “tentar obter glória por métodos falsos…” Em suma, não havia conflito entre moralidade e utilidade para o governante; a ética revelou-se, harmoniosamente, como sendo útil.
A próxima grande explosão do humanismo italiano ocorreu na cidade de Florença, quase um século mais tarde. A independência de Florença, o reduto do republicanismo oligárquico, foi ameaçada, durante três quartos de século, desde os anos 1380 até 1450, pela família Visconti de Milão. Giangeleazzo Visconti, signor e duque de Milão, partiu na década de 1380 para reduzir todo o norte da Itália à sua sujeição. Em 1402, Visconti havia conquistado todo o norte de Itália, exceto Florença, e essa cidade foi salva pela súbita morte do duque. Logo, porém, o filho de Giangeleazzo, o Duque Filippo Maria Visconti, iniciou de novo a guerra de conquista. A guerra total entre Florença e a imperial Milão continuou de 1423 até 1454, quando Florença induziu Milão a reconhecer a independência da república Florentina.
O caráter belicoso da República Florentina levou a um renascimento do humanismo republicano. Enquanto esses humanistas florentinos do início do século XV eram mais orientados filosoficamente e mais otimistas do que os seus antecessores padovanos do início do século XIV e outros antecessores italianos, a sua teoria política era muito parecida. Todos esses importantes humanistas florentinos (muito mais conhecidos dos historiadores posteriores do que os primeiros padovanos) tinham biografias semelhantes: foram formados como advogados e retóricos, e tornaram-se ou professores de retórica e/ou burocratas importantes em Florença, noutras cidades, ou na corte papal no Vaticano. Assim, o doyen dos humanistas florentinos foi Coluccio Salutati (1331-1406), que estudou retórica em Bolonha e se tornou chanceler em várias cidades italianas, nas últimas três décadas da sua vida em Florença. Os principais discípulos de Salutati, Leonardo Bruni (1369-1444) estudou direito e retórica em Florença, tornou-se secretário da cúria papal, e depois tornou-se um burocrata importante e finalmente chanceler de Florença desde 1427 até sua morte. Pier Paolo Vergerio (1370-1444) começou a formação em direito em Florença e depois ascendeu a secretário na cúria papal; e de forma semelhante Poggio Bracciolini (1380-1459) estudou direito civil em Bolonha e em Florença e depois tornou-se professor de retórica na cúria papal.
A segunda geração do círculo de Salutati também seguiu carreiras semelhantes e teve semelhantes pontos de vista. Aqui deve ser mencionado o distinto arquiteto Leon Battista degli Alberti (1404-72) da grande família banqueira, que obteve doutorado em Direito Canônico em Bolonha e depois se tornou secretário papal; Giannozzo Manetti (1396-1459) foi educado em direito e estudos humanistas em Florença, e depois serviu durante duas décadas na burocracia florentina, tornando-se mais tarde secretário da cúria papal e finalmente secretário do rei de Nápoles; e Matteo Palmieri (1406-75) tornou-se um dos principais burocratas durante cinco décadas em Florença, sendo oito vezes embaixador.
3. Humanismo italiano: os monarquistas
O declínio político e econômico das cidades-estado italianas, depois da virada para o Atlântico no final dos séculos XV e XVI, foi marcado de relações exteriores pelas repetidas invasões à Itália, realizadas pelos exércitos dos emergentes estados-nações da Europa. Os reis franceses invadiram e conquistaram a Itália repetidamente a partir da década de 1490 e, no início da década de 1520 a 1550, os exércitos da França e do Sacro Império Romano lutaram pela Itália como um campo de batalha a conquistar.
Enquanto Florença e o restante do norte da Itália estavam sendo invadidos por fora, o republicanismo em toda a Itália finalmente deu lugar à despótica regra de um-homem-só dos vários Signori. Enquanto as forças republicanas, lideradas pela família Colonna, conseguiram privar os papas de seu poder temporal durante meados do século XV, no final desse século, os papas, liderados por Alexandre VI (1492-1503) e Julius II (1503-13) conseguiram reafirmar-se como monarcas incontestáveis de Roma e do estado papal. Em Florença, a poderosa família Médici, composta por banqueiros e políticos, começou lenta, mas seguramente, a construir seu poder político até que pudessem tornar-se monarcas hereditários, Signori. O processo começou logo na década de 1430 com “O Velho” Cosimo de Medici, e culminou com a tomada do poder em 1480 pelo neto de Cosimo, Lorenzo “o Magnífico”. Lorenzo garantiu seu governo de um-homem-só ao estabelecer um “conselho dos setenta” com completo controle sobre a república, todos sendo seus próprios partidários.
As forças republicanas contra-atacaram, no entanto, o conflito durou mais da metade de um século. Em 1494, os oligarcas republicanos forçaram o filho de Lorenzo, Piero, a exilar-se depois de entregar Florença aos franceses. O governo republicano colapsou em 1512, quando os Medici tomaram o comando com ajuda das tropas espanholas. O poder dos Medici então reinou até 1527, quando outra revolução republicana os expulsou; mas dois anos depois, o papa Medici, Clemente VII, induziu o Sacro Imperador Romano dos Habsburgos Carlos V a invadir e conquistar Florença em nome dos Medici. Carlos o fez em 1530, e a república florentina então não existiria mais. Clemente VII, deixado no comando de Florença pelo imperador, nomeou Alessandro de Medici governante vitalício da cidade, e Alessandro e todos os seus herdeiros também foram nomeados senhores da cidade para sempre. O governo de Florença foi dissolvido no Grão-Ducado Medici de Toscana, e os Medici governaram a Toscana como monarcas por mais dois séculos.
O triunfo final dos Signori pôs fim ao otimismo dos primeiros humanistas republicanos do século XV, cujos sucessores começaram a se tornar cínicos sobre a política e a levar vidas de silenciosa contemplação.
Outros humanistas, no entanto, vendo “de que lado seu pão era amanteigado”, rapidamente alteraram seus elogios à oligarquia republicana para elogios à monarquia de um-homem-só. Já vimos a rapidez de Ferreto Ferreti em compor um panegírico à tirania Della Scala em Pádua. Similarmente, por volta de 1400, o peripatético e geralmente republicano P.P. Vergerio, durante sua estadia na monárquica Pádua, compôs uma obra Sobre a Monarquia, na qual saudou esse sistema como “a melhor forma de governo”. Afinal, a monarquia acabou com o tumulto e o incessante conflito de facções e partidos; trouxe a paz, “a segurança, a proteção e a defesa da inocência”. Além disso, com a vitória do absolutismo de Visconti em Milão, os humanistas milaneses rapidamente entraram na linha, compondo panegíricos para a glória do governo principado e, especialmente, de Visconti. Assim Uberto Decembrio (1350-1427) dedicou quatro livros sobre governo local a Filippo Maria Visconti na década de 1420, enquanto seu filho Pier Candido Decembrio (1392-1477), mantendo a tradição familiar, escreveu uma Eulogia em Louvor da Cidade de Milão em 1436.
Com o triunfo do governo dos Signori em toda a Itália no final século XV e início do século XVI, o humanismo pró-príncipe atingiu um pico de entusiasmo. Os humanistas provaram ser nada menos que flexíveis em ajustar suas teorias para se adaptarem do governo republicano para o governo principado. Os humanistas começaram produzindo dois tipos de livros de conselhos: para o príncipe, e para o cortesão, sobre como o segundo deve se conduzir em relação ao primeiro.
De longe, o livro de conselhos mais famoso para cortesãos foi O Livro do Cortesão (Il Libro del Cortegiano), de Baldassare Castiglione (1478-1529). Nascido em uma aldeia perto de Mântua, Castiglione foi educado em Milão e entrou ao serviço do duque daquela cidade. Em 1504, ele se tornou ligado a corte do duque de Urbino, onde serviu fielmente como diplomata e comandante militar por duas décadas. Então, em 1524, Castiglione foi passado para o imperador Carlos V na Espanha, e por seus serviços, Carlos fez dele bispo de Ávila. Castiglione compôs o Livro do Cortesão como uma série de diálogos entre 1513 e 1518, e o livro foi publicado pela primeira vez em 1528 em Veneza. A obra se tornou um dos livros mais lidos no século XVI (conhecido pelos italianos como Il libro d’oro), claramente tocando em uma ferida na cultura daquela época em sua descrição e celebração das qualidades do cortesão e do cavalheiro perfeito.
Os humanistas florentinos do início do século XV foram otimistas para o homem, por sua busca pela virtus (ou virtu) ou excelência, e por “honra, louvor e glória” que os cristãos mais tradicionais pensavam devido apenas a Deus. Foi, portanto, fácil para os humanistas do final do século XVI transferir essa busca por excelência e glória do homem individual para ser a função exclusiva do príncipe. Assim, Castiglione declara que o objetivo do cortesão chefe, “o fim para o qual ele é direcionado”, devia ser de aconselhar seu príncipe para que esse último pudesse atingir “o pináculo da glória” e tornar-se “famoso e ilustre no mundo.”
Os primeiros humanistas republicanos nutriram o ideal de “liberdade”, com o que eles queriam dizer não com o conceito moderno de direitos individuais, mas com o “governo autônomo” republicano, geralmente oligárquico. Castiglione expressamente condena tais noções antigas, em nome das virtudes monárquicas da paz, da ausência de discórdia e da obediência total ao príncipe absoluto. No Livro do Cortesão, um dos personagens do diálogo, protesta que “os príncipes mantêm seus súditos na mais próxima servidão” para que a liberdade se vá. Castiglione astutamente contrapõe, em termos antigos usados em inúmeras apologias ao despotismo, que tal liberdade é apenas um apelo para que possamos “viver como gostamos” em vez de viver de acordo “com as boas leis”. Visto que a liberdade é apenas uma licença, então, um monarca é preciso para “estabelecer seu povo em tais leis e ordenanças, para que eles possam viver em tranquilidade e em paz.”
Um importante escritor de livros de conselhos para o príncipe e para o cortesão, e também um homem que carregava a duvidosa distinção de ser talvez o primeiro mercantilista, foi o duque napolitano Diomede Carafa (1407-87). Carafa escreveu O Cortesão Perfeito enquanto servia na corte de Fernando, rei de Nápoles, na década de 1480, bem como O Ofício de Um Bom Príncipe, durante o mesmo período. Em O Cortesão Perfeito, Carafa deu o tom para o trabalho enormemente influente de Castiglione uma geração depois. Em seu O Ofício de Um Bom Príncipe, Carafa definiu o modelo para a forma de assessoria econômica apresentada por administradores consultores. Como em muitas obras posteriores, o livro começa com princípios de defesa e políticas gerais. Em seguida, passa para a administração da justiça, e então para as finanças públicas e, finalmente, para a política econômica propriamente dita.
Em políticas detalhadas, o conselho de Carafa é relativamente sensato, e não tão totalmente orientado para o poder, nem tão estatista quanto os mercantilistas posteriores que aconselharam os estados-nação plenamente estabelecidos. O orçamento deve ser equilibrado, uma vez que empréstimos forçados são comparáveis a roubo e a furto, e os impostos devem ser equitativos e moderados a fim de não reprimir o trabalho ou expulsar o capital do país. Negócios deveriam ficar em paz, mas, por outro lado, Carafa pediu subsídios à indústria, agricultura e comércio pelo estado, bem como despesas substanciais destinadas ao bem-estar social. Em contraste com os mercantilistas posteriores, os mercadores estrangeiros, declarava Carafa, devem ser bem-vindos, pois suas atividades são muito úteis para o país.
Mas não há nenhum indício em Carafa, em contraste com os escolásticos, de qualquer desejo de entender ou analisar os processos de mercado. A única questão importante era como o governante poderia manipulá-los. Como Schumpeter escreveu sobre Carafa: “Os processos normais da vida econômica não trouxeram problemas para Carafa. O único problema era como gerenciá-los e melhorá-los.”
Schumpeter também atribui a Carafa a primeira concepção de uma economia nacional; a ideia de todo o país como uma grande unidade de negócios administrada pelo Príncipe. Carafa era,
“[…] até onde sei, o primeiro a lidar de forma abrangente com os problemas econômicos do estado moderno nascente […] a ideia fundamental que Carafa vestiu em sua concepção de Bom Príncipe […] de uma Economia Nacional […] [que] não é simplesmente a soma total dos lares e das empresas individuais ou dos grupos e classes dentro das fronteiras de um estado. É concebida como uma espécie de unidade de negócios sublimada, algo que tem uma existência distinta e interesses e necessidades distintos para ser administrado como uma grande fazenda.”1
Talvez, a principal obra entre o novo gênero de livros de aconselhamento para príncipes foi a de Francesco Patrizi (1412-1494), em seu O Reino e a Educação do Rei, escrito na década de 1470 e dedicado ao primeiro papa ativista, Sisto IV, empenhado em restaurar o poder temporal do papado em Roma e ndos estados papais. Um humanista de Sena, Patrizi foi nomeado bispo de Gaeta.
Como nos outros livros humanistas de aconselhamento, Patrizi vê o locus da virtus no príncipe. Mas deve-se notar que, junto com seus companheiros humanistas pró-príncipe, bem como os republicanos anteriores, o príncipe virtuoso de Patrizi é muito mais o modelo cristão de virtude. O príncipe deve ser um cristão convicto, e deve sempre buscar a justiça. Em particular, o príncipe deve ser sempre escrupulosamente honesto e honrado. Ele “nunca deve cometer enganos, nunca dizer uma mentira, e nunca permitir que outros contem mentiras”. Sozinho com seus companheiros humanistas posteriores, no entanto, Patrizi fala do príncipe como tendo um conjunto de virtudes diferentes de seus assuntos mais passivos. Como o criador da história e aquele que busca glória, por exemplo, o príncipe não deve ser humilde. Pelo contrário, ele deve ser generoso, extravagante com seus gastos e totalmente “magnificente.”
O triunfo dos Signori, levou a muitos livros de aconselhamento simplesmente intitulados O Príncipe (Il Principe). Um foi escrito por Bartolomeo Sacchi (1421-1481) em 1471 em honra ao duque de Mântua, e um importante livro por Giovanni Pontano (1426-1503), que se apresentou ao rei Fernando de Nápoles escrevendo O Príncipe em sua homenagem em 1468. Em troca, o rei Fernando fez Pontano seu secretário por mais de 20 anos. Pontano continuou a exaltar seu patrono, em dois tratados separados, elogiando as virtudes principescas gêmeas em Fernando, da generosidade e do esplendor extravagante. Em Sobre a Liberalidade, Pontano declara que “nada é mais indigno em um príncipe” do que a falta de generosidade. E em Sobre a Magnificência, Pontano insiste que a criação de “edifícios nobres, igrejas esplêndidas e teatros” é um atributo crucial da glória principesca, e elogia o rei Fernando pela “magnificência e majestade” do edifício público que ele construiu.
4. “Velho Nick”: Pregador do mal ou primeiro cientista político livre de valor?
Os humanistas italianos tinham proposto a doutrina da governança política absoluta; primeiro a dos oligarcas republicanos, e depois a dos déspotas glorificados: o monarca ou o príncipe. Mas um ponto crucial permaneceu para livrar o governante de todas as algemas morais e permitir, e até mesmo glorificar, a governança incontrolada e irrestrita dos caprichos reais. Pois embora os humanistas não quisessem ouvir falar de nenhum controle institucional sobre a governança do estado, ainda permanecia um obstáculo crítico: a virtude cristã. O governante, advertiram todos os humanistas, precisa ser cristão; precisa se apegar sempre à justiça e precisa ser honesto e honrado.
Era necessário, então, para completar o desenvolvimento da teoria absolutista, um teórico capaz de quebrar sem medo as correntes éticas, que ainda prendiam o governante às reivindicações do princípio moral. Esse homem foi o burocrata florentino Nicolau Maquiavel (1469-1527), que escreveu uma das mais influentes obras da filosofia política até hoje: O Príncipe.
Nicolau Maquiavel nasceu em Florença, em uma família nobre toscana moderadamente abastada. Sua preferência pessoal era claramente pela velha república oligárquica, e não pelo signori, e em 1494, quando os republicanos expulsaram os Médicis de Florença, o jovem Nicolau entrou na burocracia da cidade. Subindo rapidamente no governo, Maquiavel tornou-se secretário do Conselho dos Dez, que administrava a política externa e as guerras de Florença. Ele ocupou esse importante posto até a reconquista de Florença pelos Médici em 1512, servindo em uma série de missões diplomáticas e militares.
Maquiavel era nada menos que “flexível”, e esse filósofo extraordinário do oportunismo saudou o retorno dos odiados Médici ao tentar se insinuar aos olhos deles. Durante o ano de 1513, ele escreveu O Príncipe — superficialmente mais um na série tradicional de livros de conselhos e panegíricos aos príncipes. Na esperança de induzir os Médici a lê-lo para que ele pudesse ser restaurado a um posto burocrático importante, Maquiavel teve a falta de vergonha necessária para dedicar o livro “ao Magnífico Lorenzo de Médici”. Os Médici, entretanto, não morderam a isca, e a única coisa que restou a Maquiavel foi embarcar na carreira literária e voltar às conspirações republicanas. Maquiavel participou de reuniões republicanas conspiratórias nos Jardins Oricellari, nos arredores de Florença, propriedade do aristocrata Cosimo Rucellai. Foi nos Jardins Oricellari que Maquiavel discutiu os rascunhos de seu segundo livro mais importante, os Discursos sobre a Primeira Década de Tito Lívio, escrito de 1514 a 1519.
Nicolau Maquiavel foi insultado em toda a Europa durante o século XVI e nos dois séculos seguintes. Ele era considerado alguém único na história do Ocidente, um pregador consciente do mal, uma figura diabólica que havia libertado os demônios no mundo da política. Os ingleses usaram seu nome de batismo como sinônimo para o diabo, “Velho Nick”. Como disse Macaulay: “De seu sobrenome eles cunharam um epíteto para um patife, e de seu nome de batismo um sinônimo para o Diabo.”
Nos tempos modernos, a reputação de Maquiavel como pregador do mal foi substituída pela admiração de cientistas políticos como o fundador de sua disciplina. Pois Maquiavel abandonou o moralismo ultrapassado para enxergar o poder com frieza e teimosia. Um realista obstinado, ele foi o desenvolvedor pioneiro da ciência política moderna, positiva e livre de valores. Como o mercantilista orientado para o poder, e fundador do método “científico” moderno, Sir Francis Bacon escreveria no início do século XVII: “Devemos muito a Maquiavel e a outros, que escrevem o que os homens fazem, e não o que deveriam fazer.”
Bem, qual deles foi Maquiavel: um professor do mal ou um cientista político livre de valores? Vejamos. À primeira vista, O Príncipe era muito parecido com outros livros do gênero espelho-dos-príncipes de conselhos dos humanistas do final do século XV. O príncipe era suposto a buscar a virtù, ou excelência, e era suposto a perseguir a honra, a glória e a fama no desenvolvimento de tal excelência. Mas dentro dessa forma tradicional, Maquiavel operou uma transformação radical e drástica, criando assim um novo paradigma para a teoria política. Pois o que Maquiavel fez foi redefinir o conceito crítico de virtù. Para os humanistas, assim como para os cristãos e também para os teóricos clássicos, virtù — excelência —, era o cumprimento das virtudes clássicas e cristãs tradicionais: honestidade, justiça, benevolência, etc. Para “o Velho Nick”, ao contrário, virtù no governante ou príncipe — e para os humanistas tardios, afinal, era apenas o príncipe que contava — era, simples e terrivelmente, como diz o professor Skinner, “qualquer qualidade que ajude um príncipe ‘a manter seu estado’”.2 Em suma, o principal — senão o único objetivo do príncipe —, era manter e estender seu poder; sua governança sobre o estado. Manter e expandir seu poder é o objetivo do príncipe, sua virtude, e, portanto, qualquer meio necessário para atingir esse objetivo torna-se justificado.
Em sua discussão esclarecedora sobre Maquiavel, o professor Skinner tenta defendê-lo contra a acusação de ser um “pregador do mal”. Maquiavel não elogiou o mal per se, Skinner nos diz; de fato, outras coisas permanecendo iguais, ele provavelmente preferia as virtudes cristãs ortodoxas. Acontece simplesmente que quando essas virtudes se tornaram inconvenientes, isto é, quando se chocaram com o objetivo primordial de manter o poder do estado, as virtudes cristãs tiveram de ser postas de lado. Os humanistas mais ingênuos também favoreciam que o príncipe mantivesse seu estado e alcançasse grandeza e glória. Eles acreditavam, no entanto, que isso só poderia ser feito ao se manter e ao se apegar às virtudes cristãs. Em contraste, Maquiavel percebeu que se apegar à justiça, honestidade e a outras virtudes cristãs pode, algumas vezes — ou mesmo na maioria das vezes —, entrar em conflito com o objetivo de manter e expandir o poder do estado. Para Maquiavel, as virtudes ortodoxas teriam, então, de ser descartadas. Skinner resume Maquiavel da seguinte forma:
“O sentido final de Maquiavel do que é ser um homem de virtù e suas palavras finais de conselho ao príncipe podem ser resumidas dizendo que ele fala ao príncipe para garantir, acima de tudo, que ele se torne um homem de ‘disposição flexível’: ele precisa ser capaz de mover sua conduta do bem ao mal, e vice-versa, ‘conforme a fortuna e as circunstâncias o exigirem’.”3
O professor Skinner, no entanto, tem uma visão curiosa do que “pregar o mal” realmente poderia ser. Quem na história do mundo, afinal, fora de um romance do Dr. Fu Manchu, realmente elogiou o mal per se e aconselhou o mal e o vício em cada passo do caminho da vida? Pregar o mal é aconselhar exatamente como Maquiavel o fez: seja bom, desde que o bem não atrapalhe aquilo você deseja. No caso do governante, “aquilo” é a manutenção e a expansão do poder. Do que mais senão da tal “flexibilidade” pode tratar a pregação do mal?
Seguindo diretamente do poder como objetivo primordial, e de seu realismo sobre o poder e a moralidade padrão estarem frequentemente em conflito, está a famosa defesa de Maquiavel da enganação e da desonestidade por parte do príncipe. Pois, então, o príncipe é aconselhado a sempre parecer ser moral e virtuoso à maneira cristã, visto que isso aumenta sua popularidade; mas praticar o oposto, se necessário, para manter o poder. Assim, Maquiavel enfatizou o valor das aparências, daquilo que os cristãos e outros moralistas chamam de “hipocrisia”. O príncipe, escreve ele, precisa estar disposto a se tornar “um grande mentiroso e enganador”, aproveitando-se de todos os crédulos: pois “os homens são tão simples” que “o enganador sempre encontrará alguém pronto para ser enganado”. Ou, nas palavras imortais de P.T. Barnum séculos depois: “Existe um otário que nasce a cada minuto”. E, novamente, ao elogiar a fraude e o engano, Maquiavel escreve que “a experiência contemporânea mostra que os príncipes que realizaram grandes coisas foram aqueles que deram sua palavra levianamente, que souberam enganar os homens com sua astúcia e que, no final, superaram aqueles que seguem princípios honestos”. Ou, nas palavras de outro astuto crítico social americano: “os caras legais terminam em último.”
Existe, é claro, uma contradição interna em um pregador do engano que francamente(!) divulga tais pontos de vista para todos. Pois, à medida que os governantes começam a adotar uma filosofia “pragmática”, que é sua inclinação natural em qualquer caso, o público iludido pode começar a despertar para o verdadeiro estado de coisas (“os otários podem ficar espertos”), e, então, a enganação contínua por parte da classe governante poderia muito bem ser contraproducente. Os “grandes mentirosos e enganadores” poderiam não mais encontrar tantos sujeitos tão “prontos para serem enganados.”
Nicolau Maquiavel, portanto, era inquestionavelmente um novo fenômeno no mundo ocidental: um pregador consciente do mal para a classe governante. O que dizer de suas supostas contribuições na fundação de uma ciência política intransigente, realista e livre de valores?
Primeiro, uma de suas principais contribuições tem sido reivindicada como o uso esmagador do poder, da força e da violência pelos governantes do estado. Maquiavel dificilmente foi o primeiro filósofo político a compreender que a força e a violência estão no cerne do poder do estado. Os teóricos anteriores, no entanto, estavam ansiosos para ter esse poder restringido por virtudes antigas ou cristãs. Mas existe um certo realismo revigorante no fato de Maquiavel se livrar totalmente do manto da virtude na política e em ver o estado plenamente como uma força brutal sem adornos a serviço do poder.
Existe, também, um profundo sentido no qual Maquiavel foi o fundador da ciência política moderna. Pois o “cientista da política” moderno — cientista político, economista, sociólogo ou o que for — é uma pessoa que se colocou bem confortavelmente no papel de conselheiro do príncipe ou, mais amplamente, da classe governante. Como um técnico puro, então, esse conselheiro realisticamente aconselha a classe governante sobre como atingir seus objetivos, os quais, como vê Maquiavel, se resumem em alcançar grandeza e glória mantendo e expandindo seu poder. Os cientistas políticos modernos evitam os princípios morais como sendo “não científicos” e, portanto, fora de sua esfera de interesse.
Em tudo isso, a ciência social moderna é uma fiel seguidora do astuto oportunista florentino. Mas, em um sentido importante, os dois diferem. Pois Nicolau Maquiavel nunca teve a presunção — ou astúcia — de alegar ser um verdadeiro cientista porque é “livre de valores”. Não existe nenhum fingimento de ausência de juízos de valores no Velho Nick. Ele simplesmente substituiu os objetivos da virtude cristã por outro conjunto contrastante de princípios morais: o de manter e de expandir o poder do príncipe. Como Skinner escreve:
“[…] muitas vezes é afirmado que a originalidade do argumento de Maquiavel […] reside no fato de que ele divorcia a política da moralidade e, em consequência, enfatiza a “autonomia da política” […] [mas] a diferença entre Maquiavel e seus contemporâneos não pode ser adequadamente caracterizada como uma diferença entre uma visão moral da política e uma visão da política como divorciada da moralidade. O contraste essencial é, em vez disso, entre duas moralidades diferentes — duas descrições rivais e incompatíveis do que deve ser feito em última instância.”4
Os cientistas sociais modernos, em contraste, orgulham-se de serem realistas e livres de valores. Mas nisso, ironicamente, eles são muito menos realistas ou talvez menos sinceros do que seu mentor florentino. Pois, como Maquiavel sabia muito bem, ao tomar seu papel de conselheiro dos governantes do estado, o “cientista livre de valores” está, querendo ou não, comprometendo-se com o fim e, portanto, com a moralidade dominante, de fortalecer o poder desses governantes. Na defesa de políticas públicas, se em nenhum outro lugar, a livridade de valores é uma armadilha e uma ilusão; o Velho Nick era muito honesto ou muito realista para pensar de outra forma.
Nicolau Maquiavel, portanto, foi tanto o fundador da ciência política moderna quanto um notável pregador do mal. Ao expulsar a moralidade cristã ou da lei natural, entretanto, ele não presumiu alegar ser “livre de valores” como fazem seus seguidores modernos; ele sabia muito bem que estava defendendo a nova moralidade de subordinar todas as outras considerações ao poder e às razões d xo estado. Maquiavel foi o filósofo e apologista par excellence do poder irrestrito e incontrolado do estado absoluto.
Alguns historiadores gostam de contrastar o “mau” Maquiavel de O Príncipe com o “bom” Maquiavel de seu posterior, embora menos influente, Discursos. Falhando ao convencer os Médicis de sua mudança de atitude, Maquiavel voltou, no Discursos, às suas inclinações republicanas. Mas o Velho Nick do Discursos não é de forma alguma transformado pela bondade; ele está simplesmente adaptando sua doutrina a uma política republicana em oposição a uma política monárquica.
Obviamente, enquanto um republicano, Maquiavel não pode mais enfatizar a virtù e a grandeza do príncipe, e então ele muda a base para uma espécie de virtù coletiva da comunidade como um todo. Exceto que, no caso da comunidade, é claro, virtù não pode mais fazer grandes feitos e manter o poder de um homem. Agora, passa a agir sempre no “bem público” ou no “bem comum”, e sempre subordinando os interesses “egoístas” de um indivíduo ou de um grupo privado a um alegado bem maior.
Em contraste, Maquiavel condena a busca do interesse privado como “corrupção”. Em suma, Maquiavel ainda mantém que a manutenção e a expansão do poder do estado são o bem maior, exceto que agora o estado é oligárquico e republicano. O que ele realmente prega é semelhante ao credo dos humanistas republicanos anteriores: cada indivíduo e grupo se subordina e obedece sem questionar os decretos da classe dirigente oligárquica da cidade-estado republicana.
Nicolau Maquiavel é o mesmo pregador do mal no Discursos como havia sido em O Príncipe. Um dos primeiros escritores ateístas, a atitude de Maquiavel em relação à religião no Discursos é tipicamente cínica e manipuladora. A religião é útil, opinou ele, para manter os súditos unidos e obedientes ao estado, e assim, “os príncipes e as repúblicas que desejam permanecer livres da corrupção devem, acima de tudo, manter incorruptas as cerimônias de sua religião”. A religião também poderia dar uma contribuição positiva se glorificasse a força e outras qualidades guerreiras, mas infelizmente o cristianismo minou a força dos homens ao pregar a humildade e a contemplação. Em um discurso antecipando Nietzsche, Maquiavel acusou a moralidade cristã de “glorificar os homens humildes e contemplativos” e que esse espírito pacífico levou à existente corrupção.
Maquiavel bravejou que os cidadãos só podem alcançar a virtù se seu objetivo mais elevado for manter e expandir o estado, e que, portanto, eles precisam subordinar a ética cristã a esse fim. Especificamente, eles precisam estar preparados para abandonar as restrições da ética cristã e estar dispostos a “entrar no caminho da transgressão” a fim de manter o estado. O estado precisa sempre ter precedência. Portanto, qualquer tentativa de julgar a política ou o governo em uma escala de ética cristã precisa ser abandonada. Como Maquiavel coloca com clareza cristalina e grande solenidade ao final de seu Discurso final, “quando a segurança de um determinado país depende da decisão a ser tomada, nenhuma consideração de justiça ou de injustiça, de humanidade ou de crueldade, nem de glória ou de vergonha, precisa ser permitida a prevalecer”.
As visões de Maquiavel, e a unidade essencial com sua perspectiva em O Príncipe são mostradas em sua discussão em Os Discursos de Rômulo, o lendário fundador da cidade de Roma. O fato de Rômulo ter assassinado seu irmão e outros é justificado pela visão de Maquiavel de que apenas um homem deveria impor a constituição fundadora de uma república. A astuta fusão de Maquiavel do “bem público” com os interesses privados do governante é mostrada na seguinte passagem embusteira: “Um legislador sagaz de uma república, portanto, cujo objetivo é promover o bem público, e não seus interesses privados [sic] […] deve concentrar toda a autoridade em si mesmo”. Em tal concentração, o fim de estabelecer o estado dispensa qualquer meio necessário: “uma mente sábia nunca censurará ninguém por realizar qualquer ação, por mais extraordinária que seja, que possa ser útil na organização de um reinado ou na constituição de uma república”. Maquiavel conclui com o que ele chama de “máxima segura” de que “ações censuráveis podem ser justificadas por seus efeitos, e que quando o efeito é bom, como foi no caso de Rômulo, sempre justifica a ação”.
Ao longo do Discursos, Maquiavel prega a virtude do engano para o governante. Ele insiste, também, em contraste com os humanistas anteriores, que é melhor para um governante ser temido do que amado, e que a punição é muito melhor do que a clemência ao lidar com seus súditos. Além disso, quando um governante descobre que uma cidade inteira está se rebelando contra sua lei, de longe o melhor curso de ação é “eliminá-los” por completo.
Assim, o Professor Skinner é perspicaz e correto quando concluí, in re, O Príncipe e o Discursos, que
“a moralidade política subjacente aos dois livros é, portanto, a mesma. A única mudança na postura básica de Maquiavel surge da mudança de foco de seu conselho político. Ao passo que ele estava principalmente preocupado em O Príncipe em moldar a conduta de príncipes individuais, ele está mais preocupado nos Discursos em oferecer seu conselho a todo o corpo dos cidadãos. As suposições subjacentes a seu conselho, no entanto, permanecem as mesmas que antes.”
Maquiavel ainda é ao mesmo tempo um pregador do mal e um fundador da política moderna e da ciência política.
5. A propagação do humanismo na Europa
A nova moda do humanismo italiano, marcada por sua devoção filológica e literária aos textos clássicos, por seu pensamento político absolutista e por seu desprezo pelo pensamento sistemático e pelas doutrinas da lei natural dos escolásticos, espalhou-se como um incêndio para o norte — para a França, Inglaterra, Alemanha e Países Baixos — durante o século XV. Essa conquista da erudição do norte e das universidades do norte por volta do século XVI foi quase tão influente quanto o surgimento da Reforma Protestante para pôr fim ao pensamento escolástico e para pavimentar o caminho para o domínio do estado absoluto. Havia uma diferença importante, no entanto, no pensamento político assumido pelos humanistas do norte: em países como França, Alemanha e Inglaterra, onde o rei estava adquirindo um poder cada vez mais centralizado e dominante, todas as discussões sobre as virtudes do republicanismo oligárquico pareciam como bobagens bizarras e irrelevantes. Pois os humanistas do norte, em contraste, estavam solidamente comprometidos com o “príncipe” — embora, é claro, com o virtuoso príncipe pré-maquiavélico — e consigo mesmos enquanto sábios conselheiros do poder.
O primeiro humanista italiano a lecionar na França, e a causar impacto ao fazê-lo, foi o napolitano Gregorio da Tiferna (c. 1415-66), que chegou à Universidade de Paris em 1458 para se tornar o seu primeiro professor de grego. Outros humanistas italianos logo chegaram a invadir com sucesso aquele venerável reduto da escolástica do medievo e do início do renascimento. Filippo Beroaldo (c.1440-1504) veio em 1476 para dar aulas de poesia, filosofia e de estudos humanistas. Particularmente influente na Universidade de Paris foi Fausto Andrelini (c. 1460-1518), que lecionou na Universidade de Paris por 30 anos, começando em 1489, ganhando grande fama por sua erudição clássica sobre os poetas e ensaístas latinos.
O humanismo penetrou na Inglaterra começando com Pietro del Monte (d.1457) que, de 1435 a 1440, foi um coletor de receitas financeiras papais na Inglaterra e, mais importante, foi um conselheiro literário do duque Humphrey de Gloucester, irmão do rei Henrique V, que se tornou o primeiro patrono inglês do humanismo. Gloucester trouxe um retórico italiano para sua casa, e ele colecionou uma biblioteca notável, incluindo todos os principais textos humanistas, muitos dos quais ele posteriormente apresentou à Universidade de Oxford. Oxford e Cambridge também serviram de residência para estudiosos humanistas italianos no final do século XV. O estudioso milanês Stefano Surigone (ft. 1430-80), ensinou gramática e retórica em Oxford entre 1454 e 1471, e Cornelio Vitelli (c.1450-1500) tornou-se o primeiro professor de grego em uma universidade inglesa, vindo a lecionar em New College, Oxford, na década de 1470. O humanista italiano Lorenzo da Savona lecionou em Cambridge na década de 1470 e publicou um manual de retórica em 1478, que saiu em duas edições no final do século. E Caio Auberino (fl. 1450-1500) tornou-se professor oficial de retórica em Cambridge, e lá ensinou literatura latina na década de 1480.
O humanismo também veio para o norte da Europa porque muitos jovens acadêmicos, muitas vezes inspirados por professores italianos em seu país, viajaram para a Itália para aprender o novo humanismo em sua origem. Assim, Robert Gaguin (1435-1501), depois de ser convertido ao humanismo pelas palestras de Gregorio da Tiferna, fez duas longas visitas à Itália no final da década de 1460 e voltou a se tornar um ilustre humanista francês na Sorbonne em 1473, onde lecionou retórica e literatura latina, traduziu Tito Lívio e publicou um tratado sobre versos latinos e a primeira história da França a ser escrita em total estilo retórico. Da Inglaterra veio William Grocyn (c.1449-1519), um aluno de Vitelli em Oxford, que estudou humanismo em Florença no final da década de 1480. Grocyn voltou a Oxford para se tornar seu primeiro professor de grego em 1491. William Latimer (c. 1460-1545), outro jovem estudante de Oxford, acompanhou seu amigo Grocyn em sua viagem à Itália e depois foi para a Universidade de Pádua para aperfeiçoar seus estudos em grego. Logo após o posto inicial de Grocyn em Oxford, Latimer foi nomeado professor no Magdalen College, Oxford, inaugurando Magdalen como um centro de estudos humanistas.
O mais eminente dos viajantes de Oxford para a Itália foi John Colet (c. 1467-1519), um aluno de Grocyn em Oxford, que passou os anos de 1493 a 1496 na Itália. Ao retornar da Itália, Colet também foi nomeado professor em Oxford e proferiu perante toda a universidade uma famosa série de palestras sobre as epístolas de São Paulo de 1498 a 1499.
6. Botero e a difusão do Maquiavelismo
Os humanistas do norte, junto com os italianos, acreditavam firmemente na necessidade de o príncipe praticar as virtudes cristãs da honestidade e da justiça. Mais ou menos na mesma época em que Maquiavel estava escrevendo sua defesa da nova moralidade pragmática em O Príncipe, o maior humanista da época estava escrevendo um famoso livro de conselhos aos príncipes, reiterando severamente as virtudes cristãs. Desiderius Erasmus (c.1466-1536), um cânone agostiniano holandês persuadido a estudar teologia por John Colet, dedicou seu relato de A Educação de um Príncipe Cristão ao futuro imperador Carlos V em 1516. Enquanto o velho Nick proclamava que nenhuma consideração deveria impedir a manutenção do governante no poder do estado, Erasmo advertiu o príncipe de que ele nunca deve fazer nada, independentemente de seus motivos, que possa prejudicar a causa da justiça.
O Príncipe de Maquiavel só foi impresso em 1532 e, depois disso, como observamos, uma tempestade de ataques a “Maquiavel” ocorreu em toda a Europa. Na Inglaterra, o termo favorito para Maquiavel era “o ateísta político”. Assim, um certo James Hull escreveu um livro sobre Maquiavel em 1602, intitulado O Desmascaramento do Ateísta Político. Os humanistas do norte geralmente assumiam a mesma posição, defendendo o foco da filosofia política tradicional na justiça e na honestidade e atacando a preocupação primordial dos novos teóricos com o que um maquiavélico chamou apropriadamente de “razão de estado” (ragione di stato). Assim, o cardeal Reginald Pole (1500-58), um dos defensores do catolicismo inglês contra a Reforma Henriciana, e um ilustre humanista, atacou a teoria política de Maquiavel em 1539, em sua Apologia a Carlos V, como destruidora de todas as virtudes. Roger Ascham (1515-68), outro importante humanista e tutor de longa data da Rainha Elizabeth de grego e de latim, comentou horrorizado em seu Relatório e Discurso sobre os Assuntos e os estados da Alemanha que Maquiavel ensinou que se pode “pensar, dizer e fazer o que for melhor para o lucro e para o prazer”.
Maquiavel também provou ser o grão para o moinho dos huguenotes durante a guerra religiosa francesa na década de 1570. Os huguenotes atribuíram o Massacre do Dia de São Bartolomeu de 1572 aos desígnios perversos da Rainha Mãe, Catarina de Médici, filha do mesmo Lorenzo, o Magnífico, a quem Maquiavel havia dedicado O Príncipe. Os huguenotes atribuíram o massacre à perspectiva filosófica de Maquiavel. Assim, O Despertador denunciou continuamente a “heresia perniciosa” de Maquiavel e afirmou que o rei “foi realmente persuadido pelas doutrinas de Maquiavel” ao tentar erradicar os huguenotes. Outro tratado, O Sino de Alarme (1577), afirmava que Catarina havia deliberadamente educado seu filho nas doutrinas do “ateu Maquiavel”, instruindo assim o jovem rei “nos preceitos mais adequados para um tirano”. Para outros huguenotes, Maquiavel era um preceptor na “ciência da trapaça”, uma “ciência” importada pelos italianos, tal como Catarina importou para a França.
O exemplo notável do gênero de tratados antimaquiavélicos foi o Anti-Machiavel de Innocent Gentillet (c.1535-1595), publicado em 1576. Gentillet era um huguenote francês que fugiu para Genebra após o massacre de São Bartolomeu. Maquiavel, observou ele, era essencialmente um escritor satânico de manuais sobre “como se tornar um tirano completo”.
Mesmo assim, a natureza sedutora da nova moralidade, da justificação dos meios malignos com o objetivo supostamente predominante de manter e fazer avançar o poder do estado, começou a se apoderar de vários escritores. Na Itália, um grupo de maquiavélicos apareceu durante o século XVI, chefiado por Giovanni Botero (1540-1617), e seu tratado de 1589, A Razão de estado.
Botero foi um importante humanista do Piemonte que ingressou na Ordem dos Jesuítas. É indicativo da decadência da escolástica na Itália nesse período em que esse proponente da “razão de estado” e, portanto, oponente da ética da lei natural na vida política, deveria ter sido um membro da grande Ordem dos Jesuítas. Já que Maquiavel era pouco popular na Europa, especialmente nos círculos católicos, Botero teve o cuidado de atacar Maquiavel de forma explícita e pro-forma. Mas isso foi apenas uma cobertura ritualística para a adoção de Botero à essência do pensamento maquiavélico. Ao começar defendendo a importância da adesão do príncipe à justiça, Botero rapidamente passa a justificar a prudência política como crucial para todo o governo, então define a essência da prudência de que “nas decisões tomadas pelos príncipes, o interesse sempre prevalecerá sobre todos os outros argumentos”; todas as outras considerações, como amizade, tratados ou outros compromissos, devem passar pelo conselho. A visão geral de Botero é que um príncipe deve ser guiado principalmente pela “razão de estado”, e que as ações assim guiadas “não podem ser consideradas à luz da razão comum”. A moralidade e a justificativa das ações do príncipe são diametralmente opostas aos princípios que precisam nortear o cidadão comum.
A obra de Botero desencadeou uma série de obras semelhantes na Itália nos 40 anos seguintes, todas com o mesmo título, A Razão de estado.
Além de ser um dos principais teóricos do pragmatismo político e da razão de estado, Giovanni Botero tem a notável, mas duvidosa distinção de ser o primeiro “Malthusiano”, o primeiro queixoso amargo sobre os alegados males do crescimento populacional. Em seu Da Causa da Grandeza de Cidades (1588), traduzido para o inglês em 1606, Botero expôs quase toda a tese do famoso ensaio de Malthus sobre a população dois séculos depois. A análise foi, portanto, altamente mecanicista: a população humana tende a aumentar sem limites, ou melhor, o único limite é o grau máximo possível de fertilidade humana. Os meios de subsistência, pelo contrário, só podem ser aumentados lentamente. Portanto, o crescimento da população sempre — para usar as famosas palavras de Malthus — tende a “pressionar os meios de subsistência”, resultando em pobreza e fome sempre presentes. O crescimento populacional, então, só pode ser verificado de duas maneiras. Uma é a morte de um grande número de pessoas por fome, peste ou guerras por recursos escassos (verificação “positiva” de Malthus). O segundo é o único elemento de livre arbítrio ou resposta humana ativa permitida pela teoria de Botero: que a fome e a pobreza podem induzir algumas pessoas a se absterem do casamento e da procriação (a verificação “preventiva” ou “negativa” de Malthus).
Em uma época marcada pelo aumento da população e aumento dos padrões de vida e do crescimento econômico, a melancolia de Botero sobre o crescimento populacional dificilmente cairia em ouvidos amigáveis. Em verdade, como veremos mais adiante, aqueles teóricos dos séculos XVII e XVIII que previram o crescimento ilimitado da população favoreceram a ideia como um incentivo à prosperidade e ao crescimento econômico.5
Em qualquer caso, quer se tire conclusões pessimistas, neutras ou otimistas da tese do crescimento populacional ilimitado, sua falha básica é presumir que as pessoas não reagirão se virem seus padrões de vida diminuindo por terem famílias numerosas. Botero (e Malthus depois dele) de fato denunciou o caso, até mesmo mencionando verificações “preventivas”. Pois, se as pessoas vão diminuir o número de filhos quando enfrentam a miséria absoluta, por que não podem diminuir muito antes disso? E se for assim, nenhuma tendência mecanicista pode ser postulada.
Historicamente, de fato, os fatos contradizem totalmente as sombrias previsões malthusianas. A população só tende a aumentar em resposta a um maior crescimento econômico, prosperidade e ao consequente aumento dos padrões de vida, de modo que a população e os padrões de vida tendem a se mover juntos, ao invés de ir em oposição diametral. Esse aumento na população geralmente ocorre em resposta à queda nas taxas de mortalidade causada por melhores condições de nutrição, saneamento e atendimento médico com padrões de vida mais elevados. Os declínios dramáticos nas taxas de mortalidade levam a um crescimento populacional acelerado (medido aproximadamente pela taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade). Depois de algumas gerações, a taxa de natalidade geralmente cai, à medida que as pessoas agem para preservar seus padrões de vida mais elevados, de modo que o crescimento populacional se estabiliza.
O principal defeito da doutrina da população de Botero-Malthus é que ela pressupõe que duas entidades — a população e os meios de subsistência (ou produção, ou padrão de vida) — operam sob leis totalmente independentes uma da outra. E ainda, como vimos, o crescimento populacional pode ser altamente responsivo às mudanças na produção. Similarmente, o inverso pode ser verdade. O aumento da população pode muito bem encorajar o crescimento do investimento e da produção, proporcionando um maior mercado para mais produtos, bem como mais mão-de-obra para trabalhar nesses processos.6 Schumpeter expõe bem o ponto geral em sua crítica a Malthus: “[…] é claro que não há sentido em tentar formular “leis” independentes para o comportamento de duas quantidades interdependentes.”7
Na Inglaterra, um importante humanista e colega do cardeal Pole na defesa da Igreja Católica contra a reforma anglicana foi Stephen Gardiner (c.1483-1555), bispo de Winchester. Gardiner, em contraste com Pole, foi o primeiro humanista do norte a adotar uma linha pró-maquiavélica. Escrito de maneira suficientemente apropriada quando era lorde chanceler sob a despótica rainha Maria Tudor no início da década de 1550, o Discurso Sobre a Chegada dos Ingleses e Normandos à Britânia de Gardiner foi dedicado ao rei Filipe II da Espanha. Escrito como um livro de conselhos ao rei Filipe na véspera de seu casamento com a rainha Maria, o livro aconselhou o rei sobre como governar a Inglaterra. Gardiner endossou abertamente a visão de Maquiavel de que era muito mais importante para um príncipe parecer virtuoso do que actualmente sê-lo. É útil, opina Gardiner, que o príncipe pareça “misericordioso, generoso e observante da fé”, mas qualquer governante que realmente se sinta obrigado a actualmente observar tais qualidades causaria mais mal do que bem.
Um discípulo ardoroso, embora implícito, do maquiavelismo foi o proeminente estudioso clássico belga do final do século XVI e humanista Justus Lipsius (1547-1606). Lipsius havia se mudado de Antuérpia para Leyden, na Holanda, para evitar os rigores da guerra contra o domínio espanhol. Em 1589, em Leyden, Lipsius publicou seus Seis Livros de Política. O Príncipe, escreveu Lipsius, deve aprender a como se envolver em “engano lucrativo” e a ser judiciosamente capaz de “misturar o que é lucrativo com o que é honesto”. A razão de estado foi novamente triunfante.
7. Humanismo e absolutismo na França
Antes do humanismo ter deixado sua marca na França, o pensamento político era medieval em vez de absolutista. Assim, perto do fim de sua vida, o proeminente burocrata real, jurista, e clérigo, Claude de Seyssel (c.1450-1520), publicou um tratado sobre a monarquia resumindo a perspectiva pós-medievalista na política. Ele escreveu A Monarquia da França sobre a morte do Rei Luís XII em 1515, e o apresentou ao novo rei, Francisco I. O livro foi publicado quatro anos depois, sob o título mais presunçoso, A Grande Monarquia da França, e foi republicado frequentemente depois disso.
De Seyssel nasceu em Saboia, formou-se jurista e serviu ao Rei Carlos VIII e ao Rei Luís XII, a este último como membro do Grande Conselho e em numerosas ocasiões como embaixador. Mas apesar de seu longo serviço na burocracia e sua grande admiração por Luís XII, de Seyssel era um constitucionalista em vez de um absolutista. O Rei, afirmou, é de fato absoluto dentro de sua própria esfera, mas essa esfera é severamente delimitada por uma rede de direitos detidos por terceiros de acordo com a lei consuetudinária, natural e divina.
Em contraste, o longo reinado de Francisco I (1515-47) viu o início do triunfo do absolutismo no pensamento político francês. Essa nova tendência era lançada pelo principal humanista da França, Guillaume Budé (1467-1540). Um estudioso clássico e jurídico altamente erudito, Budé viajou pela Itália no início dos anos 1500, absorveu o humanismo lá e voltou a escrever um ataque amargo sobre a jurisprudência escolástica em suas Anotações sobre o Digesto em 1508. O advento de Francisco I em 1515 teve efeitos caracteristicamente contrastantes no veterano De Seyssel e sobre o jovem Budé. De Seyssel escreveu sua magnum opus para instruir o jovem rei sobre a grandeza do que ele acreditava ser o velho regime constitucionalista do rei. Budé foi inspirado pelo advento do novo príncipe a escrever A Instituição de um Príncipe em 1519, celebrando a grandeza e poder potencialmente absolutos.
Nessa forma francesa de livro de conselhos ao rei, Budé desenvolveu a ideia, então nova na França, do príncipe como total e absolutamente soberano, cujo poder e todos os caprichos nunca devem ser limitados ou questionados. O príncipe, entoou Budé, era uma pessoa quase divina, um homem necessariamente superior a todos os outros. As leis que obrigam os súditos do príncipe não o obrigam nem se aplicam a ele; pois as leis se aplicam apenas aos médios e aos iguais, não ao príncipe que se aproxima ao perfeito ideal de humanidade. O príncipe, em suma, era um deus entre os homens e uma lei sobre si mesmo. O monarca, portanto, era sobre-humano, era ele mesmo a fonte e o critério de toda justiça.
Para Budé, as ações do rei são sempre certas porque o “coração do rei se move por instinto e por impulsão de Deus, que o controla e o atrai de acordo com sua vontade, encarrega-se de empreendimentos que sejam louváveis, honestos, e úteis para seu povo e para si mesmo […]”. Governando por direito divino e inspirado diretamente por Deus, o rei precisa apenas dos conselhos de filósofos e não era preciso muita imaginação para ver quem o grande Budé tinha em mente como conselheiro filosófico de Francisco I.
A obra de Budé foi continuada e desenvolvida por décadas sucessivas de humanistas e, particularmente, legistas. Os reis franceses ficaram maravilhados com essas teorias dominantes de sua época, e procederam alegremente para colocá-las em prática. Nisso eles foram muito auxiliados pelos juristas absolutistas sendo eles mesmos os burocratas mais importantes a serviço do rei. Dois dos principais juristas escreveram no reino de Francisco I: Barthelemy de Chasseneux (1480-1541), cujo Catálogo da Glória do Mundo foi publicado em 1529, e Charles de Grassaille, cujo Regalia da França foi escrito em 1538. Grassaille declarou que o rei da França era Deus encarnado, que todas as suas ações foram inspiradas e trazidas à tona por Deus operando através da pessoa do rei. O rei era, portanto, o vigário de Deus na terra e uma lei viva. Em certo sentido, então, Charles de Grassaille disse tudo: o rei é Deus na Terra.
Os legalistas franceses do século XVI também sistematicamente derrubaram os direitos legais de todas as corporações ou organizações que, na Idade Média, tinham permanecido entre o indivíduo e o estado. Não havia mais quaisquer autoridades intermediárias ou feudais. O rei é absoluto sobre esses intermediários, e os cria ou os derruba à sua própria vontade. Assim, como um historiador sumariza a visão de Chasseneux:
“Toda jurisdição, disse Chasseneux, pertence à autoridade suprema do príncipe; nenhum homem pode ter jurisdição, exceto por meio da concessão e da permissão do governante. A autoridade para criar magistrados, portanto, pertence apenas ao príncipe; todos os cargos e dignidades fluem e derivam dele como uma fonte.”8
A contribuição mais importante para a derrubada das estruturas intermediárias que dificultavam o domínio absoluto do monarca sobre seus súditos foi do maior jurista de sua época, Charles du Moulin. Já vimos a crítica da proibição da usura de du Moulin (de Moulinaeus), em seu Tratado sobre Contratos e Usura (1546). Muito mais importante foi sua magnum opus, Comentários sobre os Costumes de Paris (1539), uma compilação e comentário sobre o direito consuetudinário na França. Esse livro desferiu um golpe letal no direito medieval e nos privilégios de associações intermediárias, e virtualmente colocou toda autoridade nas mãos do monarca e de seu estado.
8. O cético como absolutista: Michel de Montaigne
É um conceito favorito dos liberais modernos do século XX que o ceticismo, a atitude de que nada pode realmente ser conhecido como a verdade, é a melhor base pela liberdade individual. O fanático, convencido da certeza de seu ponto de vista, irá pisotear os direitos dos outros; o cético, não convencido de nada, não irá. Mas a verdade é exatamente o oposto: o cético não tem fundamento no qual se posicionar para defender sua liberdade ou a de outros contra ataques. Uma vez que haverá sempre homens desejando agredir outros em prol de poder ou da riqueza, o triunfo do ceticismo significa que as vítimas da agressão serão rendidas indefesas contra isso. Além disso, o cético sendo incapaz de encontrar qualquer princípio de direitos ou de qualquer organização social, provavelmente desabará em, embora com um suspiro resignado, qualquer regime existente de tirania. Faute de mieux, ele não tem muito a mais para dizer ou fazer.
Um excelente exemplo disso é um dos grandes céticos do mundo moderno, o amplamente lido e célebre ensaísta francês do século XVI, Michel Eyquem de Montaigne (1533-92).9 Montaigne nasceu numa família nobre na região de Perigord, no sudoeste da França, perto da cidade de Bordeaux. Ele tornou-se juiz do parlement em 1557, aos 24 anos, tal como foi seu pai. Ele também agregou ao parlement um tio (irmão do seu pai), um primo de primeiro grau de sua mãe, e um cunhado. Ficando no parlement por 13 anos, e então negado a uma promoção à alta câmara daquele corpo, Montaigne retirou-se para seu chatô em 1570 para escrever seus famosos Ensaios. Lá ele permaneceu, exceto por um mandato de quatro anos como prefeito de Bordeaux no início da década de 1580. Um importante humanista, Montaigne virtualmente criou o modelo de ensaio na França. Ele começou a escrever esses breves ensaios no início de 1570, e publicou os dois primeiros volumes em 1580. O terceiro livro de ensaios foi publicado em 1588, e todos os três volumes foram postumamente publicados sete anos depois.
Embora católico praticante, Montaigne era um cético total. O homem não pode saber nada, sua razão sendo insuficiente para chegar a uma ética da lei natural ou a uma teologia firme. Como disse Montaigne: “a razão não faz nada além desnortear-se em tudo, e especialmente quando se intromete com coisas divinas”. E por um tempo, Montaigne adotou como seu lema oficial a pergunta, “O que eu sei?”
Se Montaigne não soubesse de nada, ele dificilmente saberia o suficiente para defender uma forte desaprovação contra a florescente tirania absolutista de seus dias. Pelo contrário, a resignação estoica, uma submissão aos ventos dominantes, tornou-se a forma necessária de enfrentar o mundo público. Skinner resume o conselho político de Montaigne afirmando que “todos têm o dever de se submeter a ordem existente das coisas, nunca resistindo ao governo prevalecente e, quando necessário, suportando-o com firmeza”.10
Em particular, Montaigne, embora cético sobre a religião em si, cinicamente enfatizou a importância social de todos observando externamente as mesmas formas religiosas. Acima de tudo, a França deve “submeter-se completamente à autoridade do nosso governo eclesiástico [católico]”.
A submissão à autoridade constituída foi, de fato, a chave para o pensamento político de Montaigne. Todos precisam permanecer obedientes ao rei em todos os momentos, não importa como ele cumpra sua obrigação de governar. Incapaz de usar razão como um guia, Montaigne teve de voltar ao status quo, aos costumes e à tradição. Ele advertiu gravemente e repetidamente que todos devem “totalmente seguir os modos e as formas aceitas”, pois “é a regra das regras, e a lei universal das leis, que cada homem deve observar as do lugar em que está”. Montaigne saudou Platão por querer proibir qualquer cidadão de olhar “até mesmo na razão das leis civis”, pois essas leis precisam “ser respeitadas como ordenanças divinas”. Embora possamos desejar governantes diferentes, precisamos no entanto, obedecer aos que estão aqui”. A melhor conquista da religião cristã, de acordo com Montaigne, era a sua insistência na “obediência aos magistrados e manutenção do governo”.
Considerando a perspectiva fundamental de Montaigne, não é de admirar que ele abraçou calorosamente o conceito maquiavélico de “razão de estado”. (Podemos dizer que ele considerava a razão do homem como inútil, mas a razão do estado como primordial?) Caracteristicamente, enquanto Montaigne escreve que ele pessoalmente gosta de se manter fora da política e da diplomacia porque prefere evitar a mentira e o engano, ele também afirma a necessidade do “vício legal” nas operações de governo. O engano em um governante pode ser necessário e, além disso, tais vícios são positivamente necessários “para costurar nossa sociedade, pois [são] venenos para a preservação da nossa saúde”. Montaigne então passa a integrar sua defesa do engano em um príncipe com sua defesa aparentemente paradoxal da razão de estado, embora não tenha nenhuma utilidade para a razão humana. Para seguir a razão de estado, o príncipe simplesmente “abandonou sua própria razão por uma razão mais universal e poderosa”, e essa super-razão mística mostrou a ele que uma ação ordinariamente má precisava ser feita.
Michel de Montaigne fez uma contribuição notável e altamente influente para o mercantilismo — o aspecto estritamente econômico do absolutismo estatal — também. Embora ele alegasse que não sabia de nada, em uma coisa ele certamente afirmou a verdade, seu muito alardeado ceticismo subitamente desaparecendo: no que Ludwig von Mises mais tarde chamaria de “falácia de Montaigne”, ele insistiu, como no título de seu famoso Ensaio Número 22, que “O infortúnio de um homem é o benefício de outro”. Aí está a essência da teoria mercantilista, na medida em que o mercantilismo tenha alguma teoria; em contraste com a verdade fundamental bem conhecida pelos escolásticos de que ambas as partes se beneficiam de uma troca, Montaigne opinou que, em uma troca, um homem só pode se beneficiar às custas de outro. Por analogia, nas trocas internacionais, uma nação precisa se beneficiar às custas de outra. A implicação é que o mercado é uma selva voraz, então por que um francês não incita o estado francês a arrancar o máximo possível dos outros?
Montaigne desenvolveu seu tema no Ensaio 22 de uma maneira caracteristicamente abrangente e cínica. Ele observa que um ateniense certa vez condenou um agente funerário
“sob a acusação de que exigia lucro irracional, e esse lucro não poderia adicionar a ele, senão pela morte de um grande número de pessoas. Esse juízo parece ser infundado, na medida em que nenhum lucro pode ser feito senão às custas de outrem, e porque pela mesma regra todo tipo de ganho teria de ser condenado.”
Todo trabalho é feito às custas de outrem, e Montaigne observa corretamente que o médico poderia ser condenado da mesma maneira. A mesma acusação poderia ser feita ao fazendeiro ou ao varejista por “ganhar por causa da fome das pessoas”, o alfaiate por “lucrar com a necessidade de roupas de alguém”, e assim por diante. Ele concluiu amplamente que o benefício de qualquer entidade é necessariamente “a dissolução e corrupção de alguma outra coisa”. Infelizmente, é claro, ele não pôde ver também que esses produtores não criaram tais necessidades, mas, em vez disso, estavam satisfazendo-as e, assim, removendo a vontade e a dor de seus clientes e aumentando felicidade e o padrão de vida deles. Se ele tivesse ido longe, ele teria percebido o absurdo de sua visão “cobra-comendo-cobra” do mercado, ou o que seria agora chamado de “jogo de soma-zero”.
9. Jean Bodin: o ápice do pensamento absolutista na França
Enquanto Montaigne pavimentou o caminho para a dominância do pensamento absolutista na França, certamente o fundador, ou pelo menos o locus classicus do absolutismo francês no século XVI foi Jean Bodin (1530-96). Nascido em Angers, Bodin estudou direito na Universidade de Toulouse, onde ele lecionou por 12 anos. Mais tarde, Bodin foi para Paris a fim de se tornar jurista, e ele logo virou um dos principais servidores do Rei Henrique III, e também um dos líderes do partido estatista politique, que defendia o poder do rei contra os militantes portadores de princípios entre os Huguenotes de um lado, e a Liga Católica de outro.
A mais importante obra de Bodin foi Os Seis Livros da República (Les Six livres de la republique) (1576). Talvez a mais massiva obra sobre filosofia política já escrita, o Seis Livros com certeza foi o livro sobre filosofia política mais influente no Século XVI. Além dessa obra, Bodin publicou livros sobre dinheiro, direito, o método histórico, ciências naturais, religião e ocultismo. Central à teoria do absolutismo de Bodin, escrita em face ao desafio da rebelião huguenote, era a noção da soberania: o poder incontestável de comando do monarca que governa o resto da sociedade. Caracteristicamente, Bodin definiu soberania como “o mais alto, absoluto, e perpétuo poder sobre os cidadãos e súditos em uma comunidade”. Fundamental à soberania em Bodin era a função do soberano como legislador da sociedade, e “a essência da legislação era o comando — no exercício da vontade com força vinculativa.”11
Visto que o soberano é quem faz ou cria a legislação, ele necessita, portanto, de estar acima da lei, que se aplica apenas para seus súditos e não para si mesmo. O soberano, então, é uma pessoa cuja vontade cria ordem da ausência de forma e do caos.
O soberano, ademais, precisa ser unitário e indivisível, o locus de comando na sociedade. Bodin explica que “vemos o principal ponto da majestade soberana e do poder absoluto consistindo em legislar para os súditos em geral, sem seus consentimentos”. O soberano necessita estar cima da lei que ele cria, bem como de quaisquer leis ou instituições consuetudinárias. Bodin incitou o príncipe soberano a seguir a Lei de Deus ao formular seus decretos, mas o ponto importante era que nenhuma ação ou instituição humana poderia ser empregada para checar se o príncipe segue o caminho divino ou para chamá-lo a prestar contas.
Bodin, entretanto, pediu para que o príncipe dependesse de conselhos ou dicas de um pequeno número de sábios conselheiros, homens que, supostamente sem motivos de interesse próprio, seriam capazes de ajudar o rei ao legislar para o bem público da nação inteira. Em suma, uma tal elite de sábios compartilharia da soberania por trás das cortinas, enquanto que publicamente, a mesma passaria decretos como se fossem somente produtos de sua própria vontade. Como Keohane escreve, no sistema do Bodin “a dependência do monarca em seus conselheiros é escondida pela impressionante e satisfatória ficção que a lei é passada adiante por uma benevolente, absoluta e super-humana vontade […]”12
Não é exagero concluir que Bodin, político e jurista da corte, via-se como um dos sábios operando o governo nos bastidores. O ideal platônico de um rei-filósofo agora se transformara em um objetivo mais realista e, para Bodin, mais egoísta, de guiar o rei pelos filósofos. E tudo isso disfarçado na ilusória suposição de que tal filósofo da corte não tem interesse próprio em dinheiro ou poder em virtude de si mesmo.
Bodin também previu uma ampla função para vários grupos na participação no governo da comunidade, assim como um amplo escopo para burocratas e administradores. O ponto crucial é que tudo seja subordinado ao poder do rei.
É frequentemente verdade que os analistas políticos são mais perspicazes em revelar as falhas em sistemas dos quais eles discordam. Consequentemente, um dos insights mais perspicazes de Bodin foi seu exame das democracias populares do passado. Bodin aponta que “se rasgarmos todos os estados populares que já existiram”, e examinarmos de perto suas condições reais, então descobriremos que o alegado governo do povo sempre foi governado por uma pequena oligarquia. Antecipando teóricos perspicazes da elite do poder ou da classe dominante do final do século XIX, como Robert Michels, Gaetano Mosca e Vilfredo Pareto, Bodin apontou que, na realidade, o governo é sempre exercido por uma oligarquia, para a qual “o povo serve apenas como uma máscara.”
Existe uma curiosa lacuna, porém, na agenda do poder absolutista proclamada por Jean Bodin. Essa lacuna fica em uma área sempre crucial para o exercício prático do poder estatal: a tributação. Vimos que antes do século XIV, esperava-se que os monarcas franceses vivessem de seus próprios aluguéis e arrecadações senhoriais, e que a arrecadação de impostos só fosse concedida com relutância e em emergências. E enquanto um sistema regular e opressivo de tributação estava vigente na França no início do Século XVI, até mesmo os teóricos reais e absolutistas hesitaram em conceder ao monarca o direito ilimitado de tributar. No final do século XVI, ambos huguenotes e membros da liga católica amargamente condenaram o poder arbitrário de tributar do rei como sendo um crime contra a sociedade. Como resultado, Bodin e seus colegas politiques do establishment estavam relutantes em fazer parte da luta a favor dos inimigos do rei. Como os escritores franceses anteriores a ele, então, Bodin inconsistentemente defendeu os direitos de propriedade privada, bem como a invalidade do rei tributar seus súditos sem seu consentimento: “Não está no poder de qualquer príncipe do mundo, aumentar os impostos sobre o povo a seu bel prazer, muito menos tomar os bens de outros homens […]”. A noção de “consentimento” de Bodin, entretanto, era dificilmente minuciosa ou radical; em vez disso, ele estava contente com o existente acordo formal de tributação pelo conselho geral.
As próprias ações de Bodin como representante dos Vermandois na assembleia do conselho geral em Blois (1576-77) enfaticamente enfatizaram os aspectos da tributação limitada de sua consistente atitude em relação à soberania. O rei propôs substituir um imposto de renda gradativo para todos os plebeus sem exceção (o que agora pode ser chamado de “imposto fixo com inchaços”) por uma miríade de impostos diferentes que eles seriam obrigados a pagar. Curiosamente, esse esquema era quase exatamente aquele que o próprio Bodin havia defendido publicamente pouco tempo antes. Mas a oposição de Bodin à proposta do rei exibia sua astuciosa atitude realista em relação ao governo. Ele notou “que o rei não poderia ser confiado quando ele disse que essa tributação seria substituída para os tailles [tributo sobre a terra], aides [tributo sobre comércio e, especialmente, bebidas] e gabelles [tributo sobre sal]. Em vez disso, era muito mais provável que o rei estivesse conspirando para tornar isso um imposto adicional”.13 Bodin também engajou em uma perceptiva análise de interesses das razões pelas quais os representantes parisienses haviam assumido a empreitada de apoio ao novo imposto mais alto. Pois ele mostrou para os parisienses que não vinham sendo pagos juros sobre os títulos de governo por muito tempo, e eles estavam esperando que os impostos mais altos permitissem ao rei retomar seus pagamentos.
Jean Bodin, ansioso em prevenir o rei de lançar uma guerra total contra os huguenotes, liderou os estados em bloquear não apenas o plano de tributação única, mas também outras concessões de emergência do rei. Bodin apontou que concessões “temporárias” frequentemente se tornam permanentes. Ele também avisou ao rei e a seus compatriotas que “não se pode encontrar transtornos, sedições e ruínas de comunidades mais frequentes do que por causa de cargas tributárias e de impostos excessivos”.
Entre os escritores absolutistas que seguiam Bodin, os súditos do estado absoluto do século XVII, toda hesitação ou piedade para o legado medieval da estrita tributação limitada estava destinada a desaparecer. O ilimitado poder do estado estava para ser glorificado.
Na mais estreita esfera econômica da teoria do dinheiro, a Bodin, como vimos acima, foi creditado por muito tempo por historiadores como o pioneiro da “teoria quantitativa da moeda” (mais estritamente, a influência direta da oferta de dinheiro sobre os preços) em sua Resposta aos Paradoxos de M. de Malestroit (1568). Malestroit atribuiu o incomum e crônico aumento de preços na França à depreciação, mas Bodin acertou em cheio a causa como sendo o aumento da oferta de espécies monetárias provindas do Novo Mundo. Como vimos, entretanto, a teoria quantitativa era conhecida desde o tempo do escolástico do século XIV Jean Buridan e de Nicolau Copérnico no início do século XVI. O aumento das espécies monetárias provindas do Novo Mundo também foi notado como a causa do aumento de preços algumas dúzias de anos antes de Bodin pelo eminente escolástico espanhol Martin de Azpilcueta Navarrus. Como um estudioso erudita, Bodin certamente teria lido o tratado de Navarrus, especialmente porque Navarrus lecionou na Universidade de Toulouse uma geração antes de Bodin estudar lá. A alegação de originalidade de Bodin nessa análise deveria então ser tomada com muita cautela.14
Jean Bodin também foi um dos primeiros teóricos a apontar a influência dos líderes sociais na demanda por bens, e, portanto, em seus preços. As pessoas, ele notou, “estimam e aumentam em preço tudo o que os grandes lordes gostam, embora as coisas em si mesmas não correspondam àquela valoração.” Então, um efeito esnobe toma conta, depois que “os grandes lordes veem que seus súditos tem uma abundância de coisas que eles mesmos gostam”. Os lordes, portanto, “começam a desprezar” esses produtos, e seus preços, então, caem.
Apesar de seus ávidos numerosos insights econômicos e políticos, todavia, Bodin era ultra-ortodoxo em sua visão da usura, ignorando a obra de seu quase contemporâneo Du Moulin, bem como a dos escolásticos espanhóis. A cobrança de juros era proibida por Deus, de acordo com Bodin, e ponto final.
10. Depois de Bodin
A exaltação da soberania por Bodin atingiu o pensamento político francês como um estrondo de trovão; pelo menos aqui havia uma forma de justificar e expandir o sempre-crescente poder da Coroa. Em particular, a nova visão que foi adotada e sutilmente transformada pelos escritores que eram de longe mais absolutistas, na prática, que o próprio Bodin. O único elemento que faltava à veneração da soberania por Bodin era a noção protestante da sanção divina; pois a absoluta soberania, para Bodin, era simplesmente um fato da natureza. Outros politiques, entretanto, logo adicionaram o ingrediente que faltava, visto que estavam a muito tempo acostumados a pensar no governo como um direito divino. A ideia do governo do rei ser comandado pelo próprio Deus era familiar no século XVI; ninguém, todavia, havia estendido essa governança real para a noção de soberania absoluta criada por Bodin.
O mais importante seguidor imediato de Bodin foi Pierre Gregoire, em seu De republica (1578). O rei, para Gregoire, era o vigário apontado por Deus na esfera temporal, e seu governo estava sobre a constante influência da vontade de Deus. O comando do rei era, portanto, equivalente ao de Deus, e era igualmente detentor da obediência absoluta de seus súditos. “O príncipe é a imagem de Deus, em poder e em autoridade”, escreveu Gregoire.
Bodin e outros ainda mantinham a ideia que a verdadeira justiça era um conceito separado e aparte dos decretos do rei, dessa forma, as ações do rei poderiam sim, ser injustas; ninguém, entretanto, estava permitido a obstruir ou a desobedecer tais ações. Mas na doutrina do escocês gálico Adam Blackwood, os dois conceitos tornam-se quase totalmente fundidos (Adversus Georgii Buchanani, 1581). A vontade do príncipe, para Blackwood, torna-se justa virtualmente por definição. O rei era necessariamente justo e virtualmente um super-humano, uma lei viva em si mesmo. De fato, Blackwood carregou a glorificação da monarquia divinamente constituída ao seu apogeu, afirmando que a própria pessoa do rei, e não simplesmente a autoridade de seu cargo, era divina, e que ele era, literalmente, um deus na Terra.
Como o título indica, a obra de Blackwood foi escrita como um ataque ao seu colega escocês gálico, o calvinista radical George Buchanan. A doutrina libertária e pró-tiranicida repousava, não surpreendentemente, no conceito de lei natural. E então, Blackwood denunciou a lei natural como uma fonte de liberdade anarquista, incitando em seus crentes uma aversão à lei e à autoridade política. Contra a lei natural, Blackwood defendeu o jus gentium, a lei positivada das nações, como a explicação e justificativa da autoridade política.
Não é surpresa que o limite consensual da tributação, ainda ativo no pensamento de Bodin, deveria cair imediatamente perante a fusão entre soberania absoluta e direito divino. O líder dessa fusão, Pierre Gregoire, introduziu também a eliminação do limite da tributação. Enquanto até mesmo Bodin tinha concedido que a lei natural estabelecia um direito à propriedade privada, com Gregoire, a lei natural somente ratificava poder irrestrito do rei. Para Gregoire, o rei tinha a ilimitada prerrogativa de cobrar impostos, uma vez que o bem do estado é maior que os direitos de propriedade privada de um indivíduo. De fato, o rei embuído pelo divino, concede absoluta autoridade sobre todas as pessoas e propriedades de seus súditos. Para evitar confusão, portanto, ou qualquer implicação de consentimento à tributação, os conselhos dos estados gerais deveria ser abolido por completo.
E foi, de fato, Adam Blackwood quem única e radicalmente atingiu a clareza de consistência sob o direito de tributar do governante. Pois se os direitos de propriedade são importantes, e o rei tinha o absoluto direito de tributar ou então de tomar propriedade privada a seu bel prazer, então isso necessita significar que “todas as terras eram originalmente do rei e foram dadas por ele a outros […] e a concessão de feudos pelo rei foi apenas uma transferência parcial; todas as terras devem tributo a ele e permanecem sujeitas a sua autoridade.”15 Em suma, uma versão estranha do estado de natureza, somente o rei tinha o direito de propriedade original ou continuada; todos os outros direitos de propriedade aparentes são simplesmente concessões do rei, posses temporárias que são reguladas pelo rei e revogáveis por ele à qualquer hora.
Enquanto que Adam Blackwood havia sido um extremista solitário do absolutismo no início da década de 1580, uma série de panfletistas realistas (royalists) logo adotaram seus pontos de vista. Aproximadamente de 1585 até a conversão de Henrique IV ao catolicismo, oito anos depois, o poder do rei foi sitiado e subordinado ao poderio da militante Liga Católica. Os escritores realistas, portanto, sentiram-se obrigados a levar ao máximo a divina santidade do soberano, a fim de eliminar qualquer poder do Papa na França, e a aconselhar a obediência absoluta a qualquer soberano legítimo, independentemente de sua religião. O rei tinha absoluta autoridade sobre a Igreja Católica na França, bem como sobre todas as outras instituições. Assim, François Le Jay (Da Dignidade dos Reis, 1589) afirmou que os reis foram estabelecidos pela honra e serviço de Deus, e que os súditos deveriam obedecer a seus governantes como se eles fossem um deus na Terra. Louis Servin, em seu Vindiciae (1590), alardeava de Henrique IV, um ainda huguenote, que “Deus é nosso rei; por Ele o rei vive e floresce, e por Seu Espírito o rei é cheio de vida”. Provavelmente a versão mais extrema dessa doutrina foi expressada em um discurso de Jacques de La Guesle, procurador-geral da França, pedindo ao parlement para condenar um padre que havia defendido a autoridade temporal suprema do Papa:
“Senhores, a autoridade do rei é sacrossanta, ordenada por Deus, o principal trabalho de Sua Providência, a obra-prima de Suas mãos, a imagem de Sua sublime Majestade e proporcional a Sua imensa grandiosidade, de modo a possuir comparação a essa criatura com O Criador. […] Pois, assim como Deus é por natureza o primeiro Rei e Príncipe, assim é o rei, por criação e imitação, Deus de todos na Terra […]”16
Os súditos, segundo esses absolutistas henricianos, deviam a essa quase-divina figura a absoluta obediência. Esses escritores desenvolveram o tema blackwoodiano de que os decretos do rei eram, ipso facto e necessariamente, justos. Jacques Hurault, em seu Dos Ofícios do estado (1588), desenvolveu essa doutrina de maneira mais clara. Hurault explicou que o príncipe era guiado pela mão de Deus e, portanto, não podia fazer nada de errado. O governante não era simplesmente um homem, mas a própria justiça, que ele dispensou de acordo com a vontade de Deus. A constituição do estado estava subordinada, em Hurault, a dois simples pontos: os comandos necessariamente justos do príncipe e a obediência de seus súditos. O governante comanda e os súditos obedecem. Ponto final. Além disso, em reação à ênfase dos membros das Liga nas pessoas, os realistas aconselharam o rei a não permitir muita liberdade a súditos naturalmente inquietantes.
Uma vez que os politiques e Henrique IV triunfaram pouco depois, essas visões ultra absolutistas e os panfletários henricianos prontos para a batalha inspiraram e foram seguidos de forma majoritária pelos teóricos dominantes da grande era do absolutismo: a França do século XVII.
1Joseph A. Schumpeter, History of Economic Analysis (Nova York: Oxford University Press, 1954), pp. 163-4.
2Quentin Skinner, The Foundations of Modern Political Thought: vol. I, The Renaissance (Cambridge: Cambridge University Press, 1978), p. 138n.
3Ibid., p. 138.
4Ibid., pp. 134-5.
5Veremos em um volume posterior que o renomado keynesiano de esquerda Alvin Henry Hansen, em sua famosa tese da “estagnação” do final dos anos 1930, previu uma estagnação permanente para a economia americana, em parte devido ao recente declínio no crescimento populacional. Veremos mais adiante que Hansen desenvolveu essa doutrina como o resultado lógico de uma estrutura walrasiana rígida. É claro que isso contrasta fortemente com a histeria pró-“crescimento populacional zero” dos liberais de esquerda da década de 1970.
6Assim, para o mundo do século XX, P.T. Bauer nota: “Em verdade, em grande parte do Terceiro Mundo, a extrema dispersão da população apresenta obstáculos ao avanço econômico de pessoas empreendedoras, obstáculos que são mais eficazes do que aqueles supostamente apresentados pela pressão populacional. Uma população esparsa impede a construção de meios de transporte e de comunicações e, portanto, retarda a disseminação de novas ideias e métodos. Dessa forma, ele circunscreve o escopo para empreender.” P.T. Bauer, Equality, the Third World and Economic Delusion (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1981),p.45.
7Schumpeter, op. cit., nota 1, p. 579.
8William Farr Church, Constitutional Thought in Sixteenth-Century France: A Study in the Evolution of Ideas (1941, Nova York: Octagon Books, 1969), p. 53.
9É pronunciado Mon-TAN-ye em vez do usual Mon-TAYN, pois ele veio de uma área do sudoeste da França onde a langue d’oc (occitano) era falada em vez da nortista (essencialmente a área ao redor de Paris) langue d’oeil ou d’oui (francês). As regiões do sul só foram conquistadas pela França no curso de uma selvagem extirpação de sua religião (albigense) e cultura durante o século XIII. Além disso, a área em torno de Bordeaux havia sido adquirida pela Inglaterra e governada pelos ingleses durante três séculos, de meados do século XII a meados do século XV. Quando os franceses capturaram Bordeaux e a região circundante na década de 1450, eles procederam à extirpação da ala gascônia (que inclui Perigord) do occitano como língua escrita, uma língua que os ingleses haviam deixado de lado. Assim, em 1539, alguns anos após o nascimento de Montaigne, os franceses proibiram o uso do occitano como língua administrativa escrita, no Édito de Villers-Cotterets. Pessoas como Montaigne foram induzidas a escrever na língua oficial francesa e, embora sempre tenha sido leal à coroa francesa, Montaigne ainda se considerava muito mais um gascão do que um francês.
10Skinner, op. cit., nota 2, p. 279.
11Nannerl O. Keohane, Philosophy and the State in France: the Renaissance to the Enlightenment (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1980), p. 70.
12Ibid., p. 75.
13Martin Wolfe, The Fiscal System of Renaissance France (New Haven: Yale University Press, 1972), p. 162.
14Em 1907, um descendente de Bodin afirmou que o primeiro escrito a explicar a influência de dinheiro em espécie do Novo Mundo sobre os preços na Europa foi o francês Noël du Fail, em 1548.
15William Farr Church, Constitutional Thought in Sixteenth Century France: A Study in the Evolution of Ideas (1941, Nova York: Octagon Books, 1969), p. 259.
16Minha tradução do francês. Veja Ibid., pp. 266n-67n.